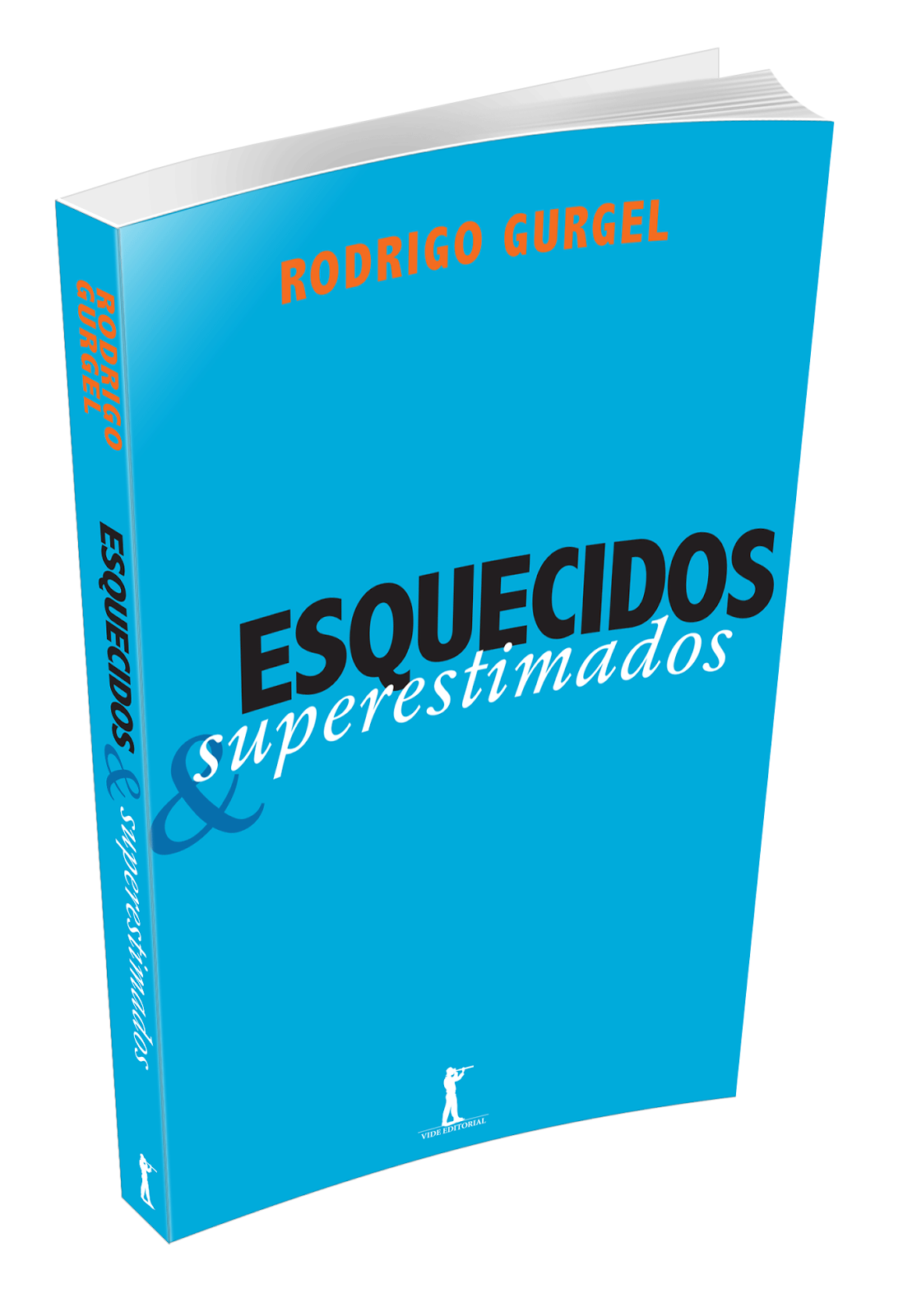Há uma qualidade indiscutível em Memórias de um sargento de milícias, de
Manuel Antônio de Almeida: passado mais de um século e meio da sua publicação –
de 1852 a 1853, na forma de um folhetim semanal anônimo, no suplemento
“Pacotilha” do jornal Correio Mercantil
–, o romance não se dobra às classificações da crítica. E a qualidade só
aumenta quando lembramos que a obra nasce em pleno romantismo, três anos antes de
surgir, também no formato de folhetim, O
guarani, de Alencar; e cresce ainda mais pelo fato de a narrativa ser uma
contraposição – ao que parece, irrefletida, espontânea – à grandiloquência, à
retórica e ao sentimentalismo exacerbado dos românticos.
Aliás, no que se refere à espontaneidade, a obra
de Manuel Antônio de Almeida apresenta aos escritores a chance de refletirem
sobre o ofício da escrita, pois nosso autor sempre falhou – vejam seus poemas,
absolutamente medíocres – quando pretendeu ser literato. Alguns de seus trabalhos
são, portanto, um convite à reflexão sobre a fronteira que separa a
literariedade do texto artificial, o metaforismo do jogo de palavras vazio, a
literatura dos malabarismos verbais, a arte do vanguardismo oco, o que
efetivamente permanecerá do que é apenas moda aprovada por uma minoria de
supostos mandarins da crítica – que também acabam, com o tempo, esquecidos.
Marques Rebelo, autor de um ótimo livro sobre
Manuel Antônio de Almeida – esgotado, infelizmente, há mais de quarenta anos –,
conta que o escritor produzia os capítulos do Memórias de forma despretensiosa, enquanto os amigos discutiam
política ou literatura, cantavam e tocavam violão: “[...] esticado numa
marquesa, com preguiça de mudar a horizontal atitude, punha o chapéu alto sobre
o ventre e em cima dele ia enchendo a lápis as suas tiras de papel, indiferente
às risadas dos companheiros, sem dar grande importância ao seu trabalho, que
nem era assinado [...]”. Comportamento, aliás, que corrobora o testemunho de um
amigo do escritor, Francisco Otaviano, segundo o qual Manuel Antônio de Almeida
“adivinhava com alguns momentos de atenção tudo o que não estudara e escrevia
sobre assuntos examinados de relance, como se de longo espaço os tivesse
aprofundado”.
Compadrio
e perversões
Surge dessa genial naturalidade o livro escrito
por um jovem de 21 anos, obra que, romântica ou não, precursora ou não do
realismo, influenciada ou não pela literatura picaresca, narra, por meio de uma
voz indulgente e jocosa, o cotidiano de pessoas comuns. O narrador do Memórias flagra os personagens em meio à
vida que condena todos, de uma forma ou de outra, ao anonimato, a pequenas e
múltiplas mesquinharias – a maior parte das vezes, jamais reveladas – e a
insignificantes gestos de heroísmo. Ele se coloca, assim, entre dois outros
escritores que, opondo-se ao turbilhão de pieguice do romantismo brasileiro,
conseguiram rir: Álvares de Azevedo – infelizmente em raras oportunidades, como
no poema “É ela! É ela! É ela! É ela!” – e Martins Pena.
A verdade simples, banal, das relações humanas
nasce, a cada página do Memórias,
despojada de idealismo ou angústia, e somos levados, desde a primeira linha –
“Era no tempo do rei” – a um microcosmo cujo retrato não tem compromisso algum
com a crônica histórica ou com a descrição fidedigna dos costumes da época de
d. João VI, mundo no qual o que está em jogo é a sobrevivência diária de homens
e mulheres que não se perguntam, sombrios, por qual motivo foram jogados na
face da Terra ou qual o sentido de suas existências, mas cumprem seu fado
usando os meios que têm à mão, não importando se desagregam lares, ferem
interesses de outrem ou maculam princípios éticos e religiosos.
Assim, não há um só personagem – favorável ou contrário
ao protagonista – que não tenha defeitos ou esconda alguma segunda intenção: Leonardo-Pataca
(pai do protagonista homônimo) é um mulherengo carente; a mãe de Leonardo (filho
de Leonardo-Pataca), uma adúltera; o padrinho, barbeiro que acolhe o menino
quando os pais se separam, enganador e ladrão de heranças. A própria comadre,
madrinha do menino, sua fiel protetora, quando surge a oportunidade não hesita
em mentir para defender os interesses do afilhado e, insinuante, arranja o
casamento de Leonardo-Pataca com sua sobrinha. O padre que ocupa o cargo de mestre-de-cerimônias
da Sé, exemplo de moralidade, é amante de uma cigana. E até mesmo o major
Vidigal, símbolo irrepreensível da ordem e da lei, acaba vencido por seu
calcanhar de Aquiles. O único que vive acima desse gregarismo marcado pelo
compadrio e por pequenas perversões – mas sempre usufruindo dele – é Leonardo,
que está longe de se mostrar “esvaziado de lastro psicológico”, como afirma
Antonio Candido, mas, ao contrário, demonstra o perfil típico de quem é criado,
longe dos pais, por um adulto que lhe faz todas as vontades e só o elogia,
encontrando méritos nos seus piores comportamentos: será uma eterna criança,
acostumada a deixar as decisões a cargo dos que direcionam sua vida; um
sonhador que nada faz de útil, vivendo às expensas dos outros, incapaz de lutar
pelo que deseja, mesmo quando se trata de uma paixão.
Império
feminino
Sempre considerei incrível que, apesar de suas
dificuldades financeiras, Manuel Antônio de Almeida tenha conseguido escrever um
romance tão leve, descomprometido com a estética de seu tempo, empenhado na
tarefa de apenas contar uma boa e divertida história. A vivacidade desse livro não
é obscurecida nem mesmo pela presença do vocabulário, de forte influência
portuguesa; e essa característica se contrapõe a outro aspecto do romantismo,
pois demonstra o quanto não era essencial a luta de alguns, principalmente de
Alencar, para dar vida a uma linguagem verdadeiramente brasileira.
O romance, inclusive, diverge da própria
organização social do país, supostamente patriarcal, ao colocar as mulheres no
papel de protagonistas. Manuel Antônio de Almeida cria um império feminino,
verdadeiro matriarcado, onde os personagens masculinos sempre se submetem –
além de raramente tomarem alguma importante iniciativa. Elas não se assemelham
às heroínas de Alencar, não almejam pureza, santidade ou o êxtase de um grande amor,
mas sabem unir sedução, doçura maternal, tirocínio e desembaraço para os
arranjos que podem beneficiar a si mesmas ou aos seus queridos. Sim, têm
defeitos – “Espiar a vida alheia, inquirir dos escravos o que se passava no
interior das casas, era naquele tempo cousa tão comum e enraizada nos costumes,
que ainda hoje, depois de passados tantos anos, restam grandes vestígios desse
belo hábito”, ironiza o narrador –, mas se impõem, unidas, certas do que
desejam, sem jamais titubear, para proteger seus escolhidos. Até mesmo a
tímida, feia e desengonçada Luizinha confirma o protagonismo das mulheres, pois,
logo após a morte do marido, é quem se antecipa no jogo de sedução, a fim de casar
com Leonardo.
Mas não estamos diante de uma cartilha que faz a
apologia do feminismo. Não. Isso seria diminuir um romance cuja pièce de résistance é a ironia. No
entanto, por razões desconhecidas – o autor pretendeu agradar ao público leitor
da época, formado principalmente por mulheres, ou manifestou uma influência da
infância, quando vivia protegido por sua mãe e pelas irmãs? –, são as mulheres
que movem a trama e lutam para girar a roda da fortuna. A importância delas
avulta inclusive nas personagens secundárias: a mulata Vidinha, com seu sorriso
capaz de derrotar qualquer oponente, e seu bordão, “qual”, repetido sempre com
extrema graça, e a vizinha do barbeiro, trocista e zombeteira, persistem na
imaginação dos leitores.
Críticas e
influência
É estranho que tal romance tenha recebido
críticas nem sempre positivas. José Veríssimo fala em “trivialidade do assunto,
pobreza do enredo e banalidade dos personagens”, chamando atenção para o
“estilo incorreto, descosido e solto, de uma simplicidade que é trivial, de um
caráter sem feição, nem relevo”. E, entre os modernistas, Mário de Andrade,
apesar de considerar Manuel Antônio de Almeida um “vigoroso estilista”, achava
“incontestável que o autor das Memórias
se exprimia numa linguagem gramaticalmente desleixada”. Mário, aliás, não consegue
rir livremente enquanto lê o romance. Na introdução que escreveu para a edição
de 1941, põe-se a denunciar o “achincalhe das classes desprotegidas, mais
cômodas de ridicularizar por menos capazes de reação”. Logo a seguir, volta à
carga: “Se exclui e se diverte caçoando, sem a menor intenção moral, sem a
menor lembrança de valorizar as classes ínfimas. Pelo contrário,
aristocraticamente as despreza pelo ridículo, lhes carregando acerbamente na
invenção, os lados infelizes ou vis”. E, no penúltimo parágrafo, solta mais impropérios:
“Das suas angústias materiais, da infância pobre, o artista não guardou nenhuma
piedade pela pobreza, nenhuma compreensão carinhosa do sofrimento baixo e dos
humildes. Bandeou-se com armas e bagagens para a aristocracia do espírito e,
como um São Pedro não arrependido, nega e esquece. Goza. Caçoa. Ri”.
Certamente, o autor de Macunaíma se
refestelaria nos dias de hoje, quando certa subliteratura politicamente
correta, de contestável valor, é guindada ao lugar de honra no pódio construído
pela crítica literária de esquerda.
Serão Eugênio Gomes, no ensaio conciso e
perfeito de Aspectos do romance
brasileiro, e Antonio Candido, no seu “Dialética da malandragem” – do qual
deve ser descontado certo esquematismo sociológico –, aqueles que demonstrarão
compreender a índole do romance e seu papel central em nossa literatura,
inclusive como antecipador da obra machadiana.
A propósito, a influência de Manuel Antônio de
Almeida sobre Machado é tema que pede aprofundados estudos. Mário de Andrade
escreve de forma injusta ao afirmar existir “algo do estilo espiritual de
Machado de Assis” no autor do Memórias,
pois a verdade deveria ser dita na ordem inversa: o autor de Dom Casmurro, além de protegido por
Manuel Antônio de Almeida na Tipografia Nacional, onde era considerado um
preguiçoso, herdou de seu protetor não só a sutileza da frase, mas a habilidade
para construir um narrador irônico, que apresenta os homens sem julgá-los e se dirige
ao leitor como se este fosse seu cúmplice. Ascendência inevitável, convenhamos,
inclusive porque Machado revisou o Memórias,
a fim de preparar o livro para a edição de 1862/1863.
Estamos, portanto, diante de um romance cujas
influências são maiores do que se imagina – e ainda pobremente detectadas na
literatura nacional, já que os influenciados, repetindo o que o próprio Machado
fez, mostram-se lacônicos quando se trata de tecer elogios a Manuel Antônio de
Almeida.
Ironia e
galhofa
No que se refere à ironia, ela está presente do
começo ao fim do livro, sugerindo ou implicando conclusões diferentes daquelas
que o narrador parece exprimir: o contexto e as contradições dos termos
despertam dúvida ou riso, construindo uma narrativa que alguns críticos,
erroneamente, supuseram “moralizante”. Na verdade, o narrador não julga, mas,
ao discordar de um costume ou de certo comportamento, apenas expressa, de
maneira paternal ou jocosa, a sua censura – escarnecendo, jamais sentenciando. É
o que ocorre no capítulo da procissão dos ourives, sobre a qual o narrador
aponta modismos e desvirtuamentos, mas também descreve os diferentes aspectos do
cortejo religioso, incluindo o encanto e a graciosidade do rancho das baianas –
sob seu ponto de vista, manifestação completamente fora de lugar. Ou, em outro
trecho, ao depreciar a moda da mantilha, transformada em mau gosto: “Este uso
da mantilha era um arremedo do uso espanhol; porém a mantilha espanhola, temos
ouvido dizer, é uma cousa poética que reveste as mulheres de um certo mistério,
e que lhes realça a beleza; as mantilhas das nossas mulheres, não; era a coisa
mais prosaica que se pode imaginar, especialmente quando as que as traziam eram
baixas e gordas como a comadre. A mais brilhante festa religiosa [...] tomava
um aspecto lúgubre logo que a igreja se enchia daqueles vultos negros, que se
uniam uns aos outros, que se inclinavam cochichando a cada momento”. Conclusões
mais próximas da galhofa do que de uma pretensa moralização.
Nesse romance, cujas histórias se repetem, todos
os dias, em qualquer bairro de classe média baixa, há espaço também para a
crítica politicamente incorreta, por exemplo, quando o narrador passa a falar
mal daqueles que, hoje, poderiam ser considerados mais uma das minorias ditas
indefesas: “A poesia de seus costumes [dos ciganos] e de suas crenças, de que
muito se fala, deixaram-na da outra banda do oceano; para cá só trouxeram maus
hábitos, esperteza e velhacaria [...]”. E não há traço de ufanismo em Manuel
Antônio de Almeida: nenhuma virgem – índia, negra, mulata ou branca – tem
“lábios de mel”, e os sabiás, se deles tivesse falado, gorjeariam como qualquer
outro pássaro, em qualquer lugar do mundo, às vezes incomodando com seu chilreio
repetitivo.
Plasticidade
A descrição da casa de um fidalgo, na qual o pó
cobre da rótula à palma benta esquecida a um canto, e do próprio morador, “de
cara um pouco ingrata”, que se apresenta ao visitante “de tamancos, sem meias,
em mangas de camisa, com um capote de lã xadrez sobre os ombros, caixa de rapé
e lenço encarnado na mão”, ou os pormenores utilizados para nos apresentar a
sala de aula em que Leonardo estudará – “mobiliada por quatro ou cinco longos
bancos de pinho sujos já pelo uso, uma mesa pequena que pertencia ao mestre, e
outra maior onde escreviam os discípulos, toda cheia de pequenos buracos para
os tinteiros; nas paredes e no teto haviam penduradas uma porção enorme de
gaiolas de todos os tamanhos e feitios, dentro das quais pulavam e cantavam
passarinhos de diversas qualidades” – são alguns dos inúmeros trechos que
extrapolam o simples realismo ou a crônica de costumes, passagens talvez
inspiradas nos relatos de Antônio César Ramos – funcionário do Correio Mercantil, chegara à patente de
sargento nas milícias de d. João VI – ao escritor, mas que, certamente, foram transfigurados
por acréscimos e distorções.
Se a força imaginativa desse jovem autor cria
cenas de inusitada plasticidade, seus personagens parecem respirar, não devido
ao exagero de características, mas à escolha perfeita do que merece ser
ressaltado: “Era a comadre uma mulher baixa, excessivamente gorda, bonanchona
ingênua ou tola até certo ponto, e finória até outro; vivia do ofício de
parteira, que adotara por curiosidade, e benzia de quebranto; todos a conheciam
por muito beata e pela mais desabrida papa-missas da cidade. Era a folhinha
mais exata de todas as festas religiosas que se faziam”. Descrições nas quais a
psicologia nunca é menosprezada, como no trecho a seguir, quando o narrador
justifica a atitude tolerante do barbeiro em relação às estripulias de
Leonardo: “Era isto natural em um homem de uma vida como a sua; tinha já 50 e
tantos anos, nunca tinha tido afeições; passara sempre só, isolado; era
verdadeiro partidário do mais decidido celibato. Assim à primeira afeição que
fora levado a contrair sua alma expandiu-se toda inteira, e seu amor pelo
pequeno subiu ao grau de rematada cegueira”.
Falsificação
e verdade
Perguntei-me, enquanto relia o Memórias, quais seriam os defeitos da
obra. E encontrei-os, acreditem: no final do Capítulo IX do Tomo II, vemos as
dificuldades de um narrador onisciente que, apesar de reter em suas mãos todas
as informações – o que não é, de fato, um problema –, parece ter medo de se
alongar, por falta de tempo ou espaço, sentindo-se premido a unir os fios
soltos do enredo mediante considerações genéricas, inconvincentes. Situação
repetida no Capítulo XIII do mesmo tomo, no qual o narrador resume os fatos, dando
ao texto um tom superficial, esquemático. Em outros raros momentos, abusa-se de
uma solução redentora: no Capítulo X do Tomo II, transcorrem semanas antes que descubram
onde Leonardo está, pois abandonou a casa paterna depois de brigar com sua
jovem madrasta; mas quando o protagonista se vê acossado por rivais, surge no
instante propício, inesperadamente, sua principal defensora, a comadre.
Tais senões, entretanto, são tragados pela
absoluta maioria de ótimas cenas. Vejam o Capítulo I do Tomo II, no qual
acompanhamos as minúcias de um parto, da preocupação e ansiedade do pai às
orações, práticas e mezinhas da boa parteira – e não se trata, aqui, apenas de
perfeição da escrita, mas do raro poder de revelar humanidade. Ou, ainda, a
descrição dos estados de ânimo do protagonista ao se apaixonar por Luizinha: seu
desconforto por desejar reciprocidade imediata, mas só receber, a princípio,
falta de jeito e timidez. E sua insegura declaração de amor (Capítulo XXIII,
Tomo I), enquanto Luizinha apenas gesticula ou enrubesce, “página que antecipa
Machado de Assis em suas melhores realizações de caráter psicológico” – segundo
a correta afirmação de Eugênio Gomes –, exemplo vivíssimo de um autor que
domina a técnica do diálogo, transmitindo, por meio das reticências, dos
silêncios e da brevidade das falas, a carga dramática adequada.